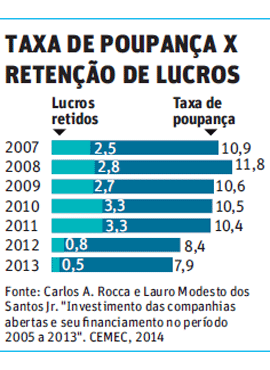Se o petróleo do pré-sal não basta para garantir o desenvolvimento, tampouco é uma condenação
A coluna passada comparou a industrialização tardia na Ásia e na América Latina (AL), tendo por base o vindouro livro "Padrões de Desenvolvimento Econômico, Estudo Comparativo de 13 Países: América Latina, Ásia e Rússia".
Em síntese, alguns países da Ásia criaram uma indústria autônoma empresarial e tecnologicamente. Na AL, o capital estrangeiro e a competição de recursos naturais abundantes fizeram uma industrialização limitada e dependente, que tem sido revertida na maior parte da região.
No entanto, o corte continental não é homogêneo. Assim, começo a tratar de experiências nacionais.
Indonésia e México são países populosos --respectivamente, 240 milhões e 120 milhões de pessoas--, que descobriram grandes reservas de petróleo nos anos 1970, embora elas tenham perdido seu esplendor nas últimas décadas.
O México, cujo capítulo é do economista João Furtado, tinha reservas provadas de 50 bilhões de barris em 1995, que despencaram para 28 bilhões em 2000 e, hoje, são da ordem de 10 bilhões (ainda altas).
O farto petróleo gerou valorização cambial, deprimindo a competitividade da indústria mexicana, que tinha criado um diversificado parque metalomecânico nas décadas de 1960 e de 1970.
A partir de 1980, o esforço exportador para fazer frente à crise da dívida envolveu, além do petróleo, a expansão das maquiladoras, um tipo de indústria voltada ao exterior, em que pouco é feito localmente, em geral etapas intensivas em trabalho. Em particular após o Nafta, que favoreceu os bens que tivessem ao menos uma etapa feita no bloco, o México virou um canal de acesso aos EUA, com a vantagem de ter mão de obra mais barata. Porém, ao contrário da microeletrônica na Ásia, tal indústria não criou raízes.
Dependente do petróleo e dos EUA, o México, que chegou a ter no início dos anos 1980 cerca de 40% da renda per capita americana, voltou ao patamar de 25% de 1950.
A Indonésia, cujo texto foi feito pelos economistas Esther Dweck e David Kupfer, é uma exceção na Ásia por não sofrer com a escassez de recursos naturais, embora tivesse, em meados do século 20, como é a regra na região, uma enorme população rural empregada em atividades de baixa produtividade.
Nos anos 1970, houve o boom do petróleo, tendo a produção diária atingido mais de 1,5 milhão de barris frente a um consumo inferior a 500 mil. O aumento do consumo e a redução da produção fizeram o país se tornar deficitário desde 2004, com reservas provadas caindo de 16 bilhões para 6 bilhões de barris.
No entanto, ainda nos anos 1970, foi possível expandir uma indústria pesada, em especial de insumos metálicos, graças à estruturação de fundos de investimento com receitas do óleo e de ajudas externas da época da Guerra Fria.
O petróleo chegou a ser 75% das exportações. Porém, mesmo durante seu auge nos 1980, a Indonésia conseguiu diversificar a indústria de transformação, que, de 10% do PIB em 1971, representa atualmente cerca de 35% da economia.
Tal trajetória ocorreu graças à articulação com a economia japonesa, cujas firmas deslocaram para seus vizinhos parte da produção para exportação aos EUA, buscando salários menores para compensar a apreciação do iene após 1985.
Assim, a Indonésia continuou crescendo desde os anos 1980, mantendo sua média anual de mais de 5%, mesmo com a crise da Ásia em 1997, que foi forte no país em razão de sua acentuada e até então saudada liberalização financeira. O problema é que o país concentra atividades intensivas em trabalho e de baixa intensidade tecnológica.
A conclusão óbvia é que as riquezas naturais permitem um país escapar da miséria e, com sorte, até ser rico, mas representam um risco de longo prazo ao ameaçar a indústria de transformação.
Menos óbvio é que --embora a Indonésia seja um país mais pobre, que em 2008 tinha 27,4% da renda per capita mexicana-- ela conseguiu evitar que os recursos naturais se tornassem uma maldição à indústria, ainda que sua diversificação produtiva esteja ligada à liderança do Japão e, depois, da China.
Para o Brasil, a lição parece ser que, se o petróleo do pré-sal não basta para garantir o desenvolvimento, tampouco é uma condenação para que o país seja só um fornecedor global de matérias-primas. marcelo.miterhof@gmail.com