"Se a economia não se sustentar; e a política não te deslumbrar; pense na forma da fila andar; não quero voltar." (Cañotus, Sonho de Consumo) www.abraao.com
sábado, 29 de novembro de 2014
quinta-feira, 27 de novembro de 2014
A MÃO INVISÍVEL
A garantia dos direitos individuais não acaba com a necessidade de as pessoas se organizarem coletivamente
A mão invisível é a mais interessante ideia tratada no livro "Sete Ideias Ruins: Como os Economistas Convencionais Prejudicaram os EUA e o Mundo", de Jeff Madrick.
Seu intuito é descrever como compradores e vendedores interagem livremente no mercado para alcançar o preço que equilibra as preferências dos consumidores, frutos de necessidades e desejos, e os custos (ou as dificuldades) de atendê-las.
Madrick destaca que Adam Smith, o criador do termo, usou-o só uma vez no livro "A Riqueza das Nações", o que bastou para a imagem fazer a cabeça de muita gente.
Expressão cunhada em 1776, ano da Independência americana e pouco antes da Revolução Francesa, quando a individualidade ganhava força, começando a libertar o mundo dos grilhões das relações tradicionais, a mão invisível foi útil para reforçar a convicção moral de que agir segundo o que é um estrito interesse individual acaba sendo o melhor para coletividade.
A beleza da metáfora vem da perfeição que o mercado parece por natureza ter: descentralizado, automático e eficiente. O sucesso do capitalismo em elevar a produtividade e em criar novos bens e serviços parece corroborar essa impressão.
Então, por que a mão invisível é uma ideia ruim? Um problema é que ela supõe que os preços de mercado são capazes de sintetizar os estímulos do capitalismo.
De fato, o preço é um bom regulador da escassez de curto prazo. Se o conjunto de pessoas procura por um bem mais do que existe de oferta, seu preço subirá. Com isso, parte dos consumidores, conforme a intensidade de suas preferências e suas possibilidades de gasto, perderá interesse no bem, equilibrando demanda e oferta. Adicionalmente, os produtores são incentivados a elevar a produção e, se necessário, investir para ampliar a capacidade produtiva desse produto. O inverso vale para o caso de um excesso de oferta.
Tal mecanismo descreve adequadamente mercados de bens perecíveis, como o de peixe na feira. Porém fica menos poderoso se é possível estocar. Joseph Schumpeter mostrou que esse é um de vários "freios" à concorrência. Outros exemplos são marcas, volume de investimentos para iniciar uma produção etc.
Esses freios são em certa medida bons para o capitalismo. Ao conferirem poder de mercado --a capacidade de fixar preços acima do que ocorreria num mercado "perfeitamente" competitivo--, permitem gerar recursos para investir em inovações, assumindo riscos para tentar encontrar novas formas de se diferenciar dos concorrentes (ou para tirar a vantagem obtida por um inovador prévio), por exemplo, criando novos produtos ou novas tecnologias que diminuem custos.
Nesse jogo de diferenciação e "desdiferenciação" entre produtores, a concorrência se mostra mais fidedigna à realidade e mais frutífera do que no simples mecanismo alocativo da mão invisível.
A mão invisível também ignora o papel do Estado no complexo jogo competitivo. As compras estatais, as universidades, a política externa, os bancos públicos são formas de alavancar o poder inovador das empresas de um país. A inovação é uma atividade arriscada e dispendiosa. Os esforços podem ser malsucedidos. No balanço de uma firma, costuma não valer a pena assumir riscos por prazo muito longo. Esse é um risco assumido pela coletividade, casos clássicos dos gastos militares --que nos EUA criaram a internet, o GPS etc.-- e do desenvolvimento de medicamentos para a saúde pública.
Quer dizer, a mão invisível promove desarticulação artificial entre mecanismos competitivos e cooperativos. Em doses variadas, eles estão sempre presentes nas interações humanas. Mesmo num casamento há competição (pelo afeto dos filhos, por exemplo) e entre comerciantes a cooperação não é de todo excluída, como quando uma rua é conhecida por abrigar lojas do mesmo ramo.
A mão invisível teve um papel na fundação da modernidade. Mas ela esconde que a garantia dos direitos individuais não acaba com a necessidade de os seres humanos se organizarem coletivamente. Aliás, o mercado também é uma forma de organização coletiva (ninguém se faz sozinho). O desafio da democracia é como fazer o balanço entre competição e cooperação para promover eficiência e igualdade, dois requisitos da busca por mais liberdade. Dedico a coluna às memórias dos ministros Adib Jatene e Márcio Thomaz Bastos. Quanta falta nos farão! MARCELO MITERHOF. Folha, 27.11.2014.
Crise atual exige tratamentos incomuns
Demanda estrangulada aflige países de alta renda; para combater a enfermidade é preciso antes compreendê-la
MARTIN WOLF - DO "FINANCIAL TIMES"
As principais economias de alta renda --EUA, zona do euro, Japão e Reino Unido-- vêm sofrendo de "síndrome de deficiência crônica de demanda". Seus setores privados não estão gastando o bastante para deixar a produção perto de seu potencial, ao menos não sem o incentivo de políticas monetárias ultra-agressivas, grandes deficits fiscais, ou as duas coisas. A síndrome da deficiência de demanda aflige o Japão desde o começo dos anos 1990, e as demais economias pelo menos desde 2008. O que se pode fazer sobre isso? A resposta: é preciso compreender a enfermidade.
Crises são infartos do sistema financeiro. O papel do médico econômico é manter o paciente vivo: prevenir o colapso do sistema financeiro e sustentar a demanda.
Um ataque cardíaco não é hora de se preocupar com o estilo de vida do paciente. O necessário é mantê-lo vivo. E crises financeiras têm efeitos duradouros, por causa do dano ao setor financeiro em si, da perda de confiança no futuro e do fato de que isso torna a dívida acumulada no período que antecedeu a crise insustentável.
O que acontece, então, é uma "recessão de balanço" --os endividados se concentram em pagar suas dívidas. Existem, porém, possibilidades ainda mais perturbadoras do que sobrecargas de dívidas. Em meu livro, "The Shifts and the Shocks", sugiro que algumas das mudanças na economia mundial criaram uma demanda cronicamente fraca, na ausência de booms de crédito.
Entre essas mudanças estão o excesso de poupança nos emergentes; e mudanças na distribuição de renda, envelhecimento e um declínio secular na propensão a investir, nos países de alta renda. Por trás das mudanças estão a globalização, a inovação tecnológica e o papel crescente do setor financeiro.
Não basta limpar os estragos causados pelo colapso do boom de crédito. As autoridades econômicas precisam eliminar a dependência da demanda quanto a um nível insustentável de crédito.
Existem três grandes alternativas: conviver com a fraqueza crônica na demanda; conduzir políticas agressivas de promoção de demanda por prazo indefinido (como fez o Japão); ou resolver os problemas estruturais subjacentes da demanda.
Para além dos males pós-crise e da demanda persistentemente fraca, temos a possibilidade de oferta estruturalmente fraca. A solução é encorajar o trabalho, investimento e inovação.
Mas políticas concebidas para promover a oferta não devem simultaneamente enfraquecer a demanda. A crise deixou um legado tétrico. A zona do euro trabalhou pior para enfrentá-la do que, digamos, os EUA. Mas as origens da crise estão em fraquezas estruturais de longo prazo.
A política econômica precisa tratar dessas falhas, também, se não quer que a saída seja o começo da jornada para a próxima crise.
É provável que as respostas sejam heterodoxas. Mas as condições econômicas atuais também o são. Doenças raras precisam de tratamentos incomuns. É preciso encontrá-los.
Tradução de PAULO MIGLIACCI. MARTIN WOLF é comentarista-chefe de economia no "Financial Times".
terça-feira, 25 de novembro de 2014
O BRASIL ESTÁ PENSANDO PEQUENO
O país precisa de políticas ousadas, muito além dos rótulos dos novos ministros e da macroeconomia
A discussão sobre a nova equipe econômica da presidente Dilma Rousseff está sendo conduzida em termos liliputianos.
Se o novo ministro é ortodoxo, neoliberal, "mãos de tesoura", o diabo, pode até ser importante, mas é secundário diante dos desafios que o país tem pela frente.
É como escreve para o "Financial Times" o colunista também da FolhaMarcos Troyjo: "A macroeconomia, por si só, não moldará um futuro mais brilhante para o Brasil".
Bingo. O Brasil precisa pensar grande, muito além do tripé câmbio flutuante/superavit fiscal primário/metas de inflação.
Só um exemplo de política que foge da macroeconomia, mas precisa urgentemente ser pensada ou repensada: mudança climática.
O Banco Mundial, que não chega a ser um Greenpeace, acaba de divulgar relatório em que adverte para as tremendas consequências econômicas da mudança climática.
Para o Brasil, em particular, não fazer nada ou continuar com as políticas atuais tende a permitir a ocorrência de fenômenos climáticos extremos que, por sua vez, poderão cortar a safra de soja de 20% a 70%.
Por isso, o relevante não é discutir apenas se a provável futura ministra da Agricultura, Kátia Abreu, é uma representante do agronegócio no governo ou uma inimiga dos índios. Mais importante é discutir que políticas o governo adotará para colaborar na mitigação da mudança climática.
Francamente falando, se a presidente me pedisse uma indicação para o ministério, eu sugeriria alguém do Greenpeace.
Mas não é esse o ponto. O ponto é que a responsável pelas políticas a serem adotadas não é Kátia Abreu, Joaquim Levy ou quem seja. É Dilma Rousseff, mas não a vejo cercando-se de gente capaz de discutir seriamente e em profundidade como o Brasil vai se inserir num mundo em constante mutação.
Em "El País" desta segunda-feira, 24, Antonio Navalón escreveu que, talvez, o problema da política, tanto do mexicano Peña Nieto como de Dilma Rousseff, é que "tratam de consertar e preservar, quando os novos tempos exigem mudar".
Conservar o superavit primário, por exemplo, significa manter uma situação em que o pagamento dos juros consome, como consumiu nos 12 meses até setembro, R$ 190 bilhões, enquanto, para investimentos, sobra a terça parte desse montante (R$ 57,1 bilhões).
É viável um país assim?
É viável um país em que os detentores da dívida pública, que não são exatamente pobres, recebem esses R$ 190 bilhões, ao passo que os pobres entre os pobres (os atendidos pelo Bolsa Família, que são muitos mais) ficam com um sexto desse bolo (R$ 25 bilhões)?
Pouco me interessa saber se Joaquim Levy ou quem for, afinal, o ministro da Fazenda é neoliberal. Importa é que ele, até agora em sua vida pública, não deu demonstrações de que é capaz de pensar grande, pensar um país realmente grande.
Como diria Deng Xiaoping, o líder chinês, não importa a cor do gato; importa que ele cace o rato. Não há até agora, no jogo do novo ministério, alguém que pareça de fato capaz de caçar um Brasil grande. CLÓVIS ROSSI
Folha, 25.11.2014.
quarta-feira, 19 de novembro de 2014
Homem de "mercado"
Há certamente alguma coisa muito errada num país em que o ministro da Fazenda "precisa" ser escolhido pelo setor financeiro. O capitalismo "financeiro" não é, e é incrível que pretenda ser, um fim para si mesmo. Sua arrogância é tal e tamanha que o leva a esquecer porque existe.
Um dia --antes que se apropriasse do setor real da economia e o de poluir com seu excesso de imaginação e derivativos--, ele foi fundamental para promover as inovações e os investimentos que estimularam o crescimento econômico e a prosperidade geral.
Por duas vezes no mundo, nos anos 20 e nos 80 do século passado, o fundamentalismo monetário, tornou artigo de fé o "mercado perfeito que se auto-regulava". E colhemos duas crises mundiais pelas mesmas causas: a sua profunda imoralidade e o delírio do risco alavancado quando desregulado. Agora chega!
Primeiro, porque não há controle eficaz quando o agente da ação acumula a função de ser seu próprio fiscal.
Todos combatem com razão, o aparelhamento das agências reguladoras feito pelo PT com seus "companheiros" de passeata. Todos defendem a escolha de agentes profissionalmente "competentes, diligentes e independentes".
Ninguém defende que os membros da Anatel "devem" ser indicados pelas empresas de telecomunicações! Já devíamos ter aprendido que a tentativa de "captura do fiscal pelo fiscalizado" é problema universal ligado à natureza humana e deve ser prevenido.
Segundo, porque devemos aceitar como um axioma que um "homem do mercado" conhece necessariamente o funcionamento do mercado e a "última" teoria monetária (supondo que ela exista e está bem consolidada)?
Seguramente ele sabe menos sobre as implicações macro e microeconômicas das medidas monetárias do que, por exemplo, um inteligente e honesto profissional que vem durante anos tentando encontrar relações estáveis entre as manobras da taxa de juro real e seus efeitos sobre a taxa de câmbio real. Ou entre os condicionamentos que a "dominação fiscal", o excesso de demanda pública e a política salarial distributivista, impõe sobre a potência da taxa de juro real de longo prazo. Pelo contrário, o mais provável é que a miopia do "homem do mercado" o leve a não ver nada além das minúsculas "opões" especulativas abertas por sua própria ação, o que, do ponto de vista macroeconômico, é de uma pobreza lamentável.
Tome seu tempo, senhora presidenta. Escolha livremente, com cuidado e segurança, na administração pública, na academia ou mesmo no mercado, o substituto do ilustre ministro Guido Mantega, que pagou um alto preço por sua fidelidade ao partido e ao seu governo. ANTONIO DELFIM NETTO . Folha, 19.11.2014.
quarta-feira, 22 de outubro de 2014
Análise: Entenda o que fez balançar mercados globais
GILLIAN TETT - DO "FINANCIAL TIMES" - 17/10/2014 02h00
Três dias atrás, Guy Debelle -um dos principais dirigentes do BC australiano- previu que os mercados estavam se encaminhando a um período de intensa instabilidade, porque os investidores estavam sendo ingênuos sobre os riscos estruturais.
Número "considerável" deles, observou Debelle, presumia que poderia se livrar de suas apostas antes que surgisse uma onda de vendas. "A história nos ensina que essa estratégia em geral não obtém sucesso", ele advertiu. "A saída tente a ficar superlotada rapidamente."
Um dia mais tarde, sua previsão se confirmou. A volatilidade da quarta-feira explodiu nos mercados, levando os preços dos títulos do Tesouro dos EUA a oscilar violentamente e os dos títulos e ações europeus a se movimentarem de modo brusco.
As oscilações demonstraram que a questão da "liquidez" -a facilidade de negociar os ativos- tem imensa importância. O que é preocupante é que a liquidez parece ter decrescido. Para citar Debelle, "isso não fica evidente em um mercado em alta, quando os ativos estão sendo comprados, mas rapidamente se tornará aparente em um mercado em baixa".
Para quem não trabalha no setor financeiro, pode parecer estranho. Desde a crise de 2008, os bancos centrais despejaram imensos volumes de dinheiro -a depender da forma de cálculo, de US$ 7 trilhões a US$ 10 trilhões.
Mas o problema da "liquidez" é que a existência de muito dinheiro no sistema não garante que os fundos fluam livremente. Um sistema inundado de dinheiro pode se congelar, às vezes.
Em alguns casos isso ocorre porque os investidores perdem a fé uns nos outros e deixam de operar, como aconteceu em 2008. Mas os mercados também podem se tornar ilíquidos porque é difícil aproximar compradores de vendedores -foi o que causou as loucas oscilações de preço dos títulos do Tesouro norte-americano e outros papéis, nesta semana.
Existem pelo menos quatro razões por trás do atual problema de liquidez. A mais simples é a unanimidade nas visões dos investidores. Uma pesquisa da Bloomberg na semana passada revelou que 100% dos economistas consultados (sim, 100%) previam que as taxas de juros dos EUA subiriam em breve.
Quando os investidores se desanimaram com as perspectivas econômicas depois da reunião do FMI, no fim da semana passada, muitos tentaram inverter as posições de mercado ao mesmo tempo.
Um segundo motivo é que os administradores de ativos estão mais propensos a um comportamento de rebanho -o que complica o desafio de aproximar compradores de vendedores. Isso porque os investidores cada vez mais usam referenciais parecidos para balizar desempenho.
Há também uma concentração grande de administradoras de fundos. Nos mercados emergentes, por exemplo, o Banco de Compensações Internacionais (BIS) estima que as 20 maiores administradoras detenham 30% de todos os títulos e ações -nível duas vezes mais alto do que o de uma década atrás.
Uma terceira questão é o crescente uso de programas de computador para executar operações. Em teoria isso tornaria os mercados mais líquidos, porque eles podem casar operações em todo o planeta em velocidade incrível. Mas eles tendem a operar de modo parecido: como os seres humanos, se movimentam em rebanho, o que intensifica o desequilíbrio.
Mas a questão mais espinhosa é a regulamentação. No passado, os grandes bancos de investimento muitas vezes promoviam o contato entre compradores e vendedores, porque detinham grandes carteiras de títulos.
Mas de 2008 para cá eles reduziram essas carteiras em entre 30% e 80% (a depender da classe de ativo) para atender a regras mais severas. Isso reduziu a sua capacidade para agir como formadores de mercado, e eliminou os amortecedores do sistema.
Existe solução? Os dirigentes de bancos centrais já debateram se órgãos governamentais deveriam agir como formadores de mercado em uma crise. As autoridades estão tentando limitar os programas automatizados, e o Serviço de Pesquisa Financeira dos EUA está tentando monitorar melhor os rebanhos de investidores.
Há uma implicação enervante: ainda que o sistema bancário possa estar mais seguro do que em 2008, partes dos mercados podem ter se tornado mais perigosas para os investidores incautos, por causa de todos os rebanhos.
Ou, para expressar de outra forma, o ponto mais importante nas oscilações de preço desta semana é que elas talvez sejam apenas um aperitivo do que poderia acontecer quando os bancos centrais enfim voltarem a elevar os juros (em lugar de só falarem incansavelmente nisso). Que os investidores fiquem avisados. Folha, 17.10.2014.
Tradução de PAULO MIGLIACCI
www.abraao.com
ANTONIO DELFIM NETTO: Salve o Nobel
O estudo do funcionamento econômico da sociedade pode ser convenientemente dividido em dois ramos: a macroeconomia e a microeconomia.
A macro procura entendê-lo e criar instrumentos para que seu administrador (o governo eleito periodicamente) possa produzir um bom equilíbrio interno e externo. Durante muito tempo os economistas acreditaram --e alguns ainda acreditam-- que, com uma adequada âncora cambial (o "padrão ouro"), o sistema deixado a si mesmo ("laissez faire") produziria "naturalmente" aqueles equilíbrios. A variável de ajuste "natural" era o aumento do desemprego e a redução do salário real, que se tornou politicamente inaceitável pelo avanço do sufrágio universal.
Mas o fato importante é que mesmo uma macroeconomia virtuosa não garante uma alocação eficiente dos fatores de produção disponíveis se não forem dados estímulos adequados aos agentes econômicos. Quem cuida do crescimento e sugere instituições e mecanismos que aumentam a produtividade de todo o sistema econômico é a microeconomia. Ela tem avançado dramaticamente desde a exploração do uso da teoria dos jogos, da teoria dos leilões e dos estudos sobre a formação de preços em mercados especiais, onde há necessidade de submeter à maior concorrência monopólios e oligopólios de forma a proteger os consumidores com bons serviços e "modicidade tarifária". Esta aproximação da teoria com a realidade foi, justamente, premiada com o Nobel de economia de 2014 a Jean Tirole.
O governo Dilma chegou ao diagnóstico correto em 2011 quando anunciou que a aceleração do investimento público era a boa saída para a volta ao crescimento. Foi lento, entretanto, em entender que o sucesso das concessões de infraestrutura, por serem transferências de monopólios públicos para o setor privado, envolvem contratos necessariamente "abertos" que duram de 20 a 30 anos e exigem: 1) bons projetos executivos que especifiquem claramente a qualidade dos serviços que se espera delas ao longo do tempo; 2) a construção de leilões adequados --tarefa de profissionais especializados-- para estabelecer a taxa de retorno e 3) agências reguladoras de Estado competentes e estáveis para garantir a integridade econômica e financeira dos contratos. Quando se nomeia um "companheiro de passeata" para uma agência de Estado aumenta-se o "risco" da concessão e, portanto, sua taxa de retorno.
É por isso que talvez ninguém tenha mais necessidade do que o governo brasileiro de aprender na obra fundamental do novo Nobel sobre a formação de preços em mercados especiais. A presidente Dilma precisa incorporar Tirole às suas leituras após domingo...
Folha, 22.10.14.
www.abraao.com
quarta-feira, 15 de outubro de 2014
Candidato
ANTONIO DELFIM NETTO
É fato que a economia brasileira: 1) perdeu o vento de "cauda" da conjuntura mundial que a impulsionou de 2003 a 2010, mas mudou de direção em 2011, dificultando o seu crescimento; 2) tem um deficit em conta corrente insustentável de US$ 80 bilhões por ano (3,5% do PIB) devido ao uso da taxa de câmbio para controlar a inflação; 3) e sofre os inconvenientes da taxa de câmbio valorizada que são muito superiores aos seus eventuais benefícios na redução da taxa de inflação.
Esta continua a namorar o limite superior de tolerância da meta (6,5%), mas, obviamente, não está fora de controle e 4) por tudo isso, paga o preço de um crescimento minúsculo (talvez 1,7% ao ano em 2011-2014) que, pelo menos em parte, é responsável pela desconfortável situação fiscal, mas que está longe de ser apocalíptica.
Começamos a tomar consciência de que as desejadas políticas de inserção social, redução das desigualdades e ênfase no aumento da igualdade de oportunidades, ínsitas na Constituição de 1988, criaram uma modesta mas numerosa classe "média" em um mercado de 200 milhões de cidadãos. Para que elas continuem com sucesso, é preciso voltar a crescer com melhor equilíbrio. Seguramente esse é um problema menos difícil do que a quadratura do círculo com régua e compasso, mas está muito longe de ser trivial.
O que é, afinal, esse fenômeno a que damos o nome de desenvolvimento? É apenas o codinome do aumento da produtividade do trabalho. Ele depende de muitas coisas: do tratamento e dos estímulos dados a cada trabalhador e aos empresários, do ambiente de trabalho, da disposição de cooperação efetiva de cada um no processo global etc.
Mas depende de duas condições necessárias (ainda que não suficientes): 1) é preciso alocar a cada trabalhador um volume crescente de capital físico (por exemplo, trocar um arado puxado a boi por um trator) que incorpore ganhos tecnológicos e 2) é preciso dar a cada trabalhador a capacidade, isto é, o preparo técnico, para tirar proveito da sofisticação do estoque de capital que lhe é alocado.
Simplificando: desenvolvimento econômico = aumento da produtividade da mão de obra = mais capital físico com sofisticação crescente para cada trabalhador associado ao seu preparo técnico para operá-lo.
Como fazer isso sem a cooptação dramática do setor privado depois que a política de inclusão empregou toda a mão de obra com pequenas habilidades e baixa produtividade, logo, com baixos salários (o que explica o "mistério" do baixo crescimento do PIB com baixo desemprego)? A resposta cabe aos dois candidatos. Folha, 15.10.14.
terça-feira, 30 de setembro de 2014
Crise de confiança nas elites
Por NEIL IRWIN
Um plebiscito destinado a transformar a Escócia em um país independente e acabar com o Reino Unido tal qual o conhecemos fracassou, mas teria tido sucesso caso apenas 5% dos votos mudassem de lado.
Um partido de direita e anti-imigração obteve na Suécia a mais expressiva votação da sua história em uma eleição.
E, nos Estados Unidos, novos dados do Censo mostram que as famílias de classe média ganharam 8% a menos no ano passado (descontada a inflação) do que em 2007. O que essas histórias têm em comum é o seguinte: elas revelam uma crise de confiança na elite global.
Há um acordo implícito nas democracias modernas: tudo bem que os ricos e poderosos desfrutem de jatos particulares e casas extraordinariamente caras, desde que o resto da população também tenha um aumento consistente do seu padrão de vida.
Mas só a primeira parte do trato vem sendo cumprida, e os eleitores estão expressando sua frustração de maneiras que variam de acordo com o país, mas que têm em comum a sensação de que a ordem estabelecida não lhes serve.
Isso ficou evidente nas votações da Escócia e da Suécia, nos resultados expressivos dos partidos de extrema-esquerda e extrema-direita nas eleições deste ano para o Parlamento Europeu, na ascensão do Tea Party nos Estados Unidos e na instabilidade política que levou o Japão a ter seis primeiros-ministros desde 2007.
Em grau mais detalhado, as queixas escocesas contra a classe dominante inglesa são quase diametralmente opostas às do Tea Party ou dos direitistas suecos. Os escoceses querem um aumento dos gastos sociais, ao invés da sua redução, e seu movimento têm um forte traço ambiental antinuclear.
Mas sempre existem pessoas que divergem dos rumos da política em seu país. A razão de ser de um Estado é ter um aparato que canalize preferências díspares para um conjunto sensato de opções políticas.
O que diferencia o momento atual é que o descontentamento com a conjuntura é tão elevado que chega a colocar em xeque a tolerância em relação às instituições governamentais tais quais existem hoje.
Desde a crise financeira, os Estados Unidos vêm registrando um crescimento mais intenso do que o Reino Unido, o Japão e a Europa continental, e sua economia é 6,7% maior do que era no final de 2007.
Mas os trabalhadores americanos não estão se beneficiando. O Departamento do Censo informou recentemente que a renda familiar média ajustada pela inflação foi de US$ 51.939 (R$ 123.615) em 2013, um aumento de apenas US$ 180 em relação 2012, e ainda 8% abaixo dos níveis de 2007.
O pico de renda de 2007 já era ligeiramente inferior ao pico de 1999. Em outras palavras, uma família americana de classe média está hoje pior do que há 15 anos. A discussão sobre a economia em geral se concentra em coisas como a geração de empregos e o crescimento do produto interno bruto (PIB). Mas ninguém se alimenta de PIB.
A cada pleito, os EUA parecem em condições de viver uma onda eleitoral que faça um dos partidos obter um avanço importante.
Pode parecer contraditório o fato de Obama e os parlamentares democratas terem sido eleitos com uma votação esmagadora em 2008, mas que em 2010 tenha ocorrido uma guinada em favor do Tea Party. No entanto, é isso que se pode esperar num mundo onde a política tradicional oferece resultados medíocres.
No Reino Unido, o governo trabalhista liderado por um primeiro-ministro escocês (Gordon Brown), com um ministro das Finanças também oriundo dessa região (Alistair Darling), estimulou o predomínio das finanças na economia britânica, ensejando o surgimento de grandes bancos globais numa Londres cada vez mais cosmopolita como o centro da estratégia econômica.
Mas em 2008 os bancos quase quebraram e tiveram de ser socorridos, e a economia nunca mais foi a mesma. Esse fracasso levou a um governo de coalizão, em 2010, que está ainda menos alinhado com as políticas dos escoceses, impondo a austeridade enquanto eles preferem ampliar a rede de bem-estar social.
Mas talvez seja na Europa continental que as consequências das trapalhadas das elites sejam mais prejudiciais e perigosas.
Décadas de avanço rumo a um continente unido, liderado pela centro-direita e pela centro-esquerda, criaram uma Europa Ocidental onde existem uma moeda e um banco central únicos.
Mas essa autoridade não contava com a união política, fiscal e bancária que permitiria diminuir desequilíbrios entre os países sem o benefício das flutuações.
Quando tudo veio à tona, os líderes já estavam tão alarmados com os deficits orçamentários que reagiram cortando gastos e aumentando impostos.
Assim, os desequilíbrios acumulados por anos a fio na Europa se refletem em níveis astronômicos de desemprego e em reduções salariais em países como Espanha e Grécia. Mesmo as economias do norte da Europa, Alemanha incluída, têm crescimento baixo ou nulo.
Apesar de a Grande Depressão da década de 1930 ter trazido no início uma contração mais acentuada da atividade econômica, a economia europeia está, seis anos após a crise de 2008, pior do que num momento comparável da década de 1930.
Nas eleições europeias de maio, partidos de extrema-direita e extrema-esquerda obtiveram grandes avanços. Todo o esforço do pós-Segunda Guerra Mundial para construir uma Europa unida incluirá agora partidos que usam imagens nazistas e outros que se consideram comunistas.
O site Huffington Post pode, sem ser acusado de exagero, publicar uma lista intitulada "Os nove mais assustadores partidos de ultradireita atualmente no Parlamento Europeu". Algo deu errado no projeto do continente.
Os detalhes sobre os erros governamentais diferem, assim como dos movimentos que cresceram como forma de protesto. Mas eles são um lembrete de que o poder não é um direito, e sim uma responsabilidade.
E, por mais entrincheiradas que nossas instituições governamentais pareçam estar, elas repousam sobre uma premissa pétrea: a de que os líderes irão cumprir o que prometem. NYT, 30.09.2014.
quinta-feira, 25 de setembro de 2014
Emprego 50: Um número muito evitado na França
Por LIZ ALDERMAN
ÉGUILLES, França - O montanhista francês Philippe Plantier estava descendo um rochedo há mais de uma década quando teve um momento de inspiração: ele poderia transformar sua paixão por escaladas em um negócio.
Abriu uma pequena empresa na Provença, no sudeste da França, que atua em estruturas industriais, com montanhistas fazendo pintura e outras tarefas em rapel.
Plantier decididamente não se intimida com alturas, porém se recusa a ultrapassar o número 49. Quando seu quadro de funcionários chegou a esse limite, ele não contratou mais ninguém.
Empregar a 50° pessoa implicaria se enredar em quase 30 regras trabalhistas francesas que levariam a um aumento de cerca de 4% nos custos de sua empresa, a Travaux Grande Hauteur.
Segundo Plantier, isso poderia fazer a diferença entre ganhar e perder dinheiro. Em vez de expandir a empresa, ele montou mais duas com menos de 50 pessoas. Para economistas, as regras para empresas com mais de 50 funcionários são um dos motivos para que a taxa de desemprego na França seja o dobro da registrada na vizinha Alemanha.
Quando ultrapassam o limiar, as companhias são obrigadas a ter um conselho de trabalhadores com sindicalistas, um comitê de saúde e um dissídio coletivo anual.
Com a estagnação da economia, o presidente François Hollande tentou estimular a geração de empregos reduzindo o Código de Trabalho, a fim de facilitar demissões nas empresas e reduções de salários e carga horária em períodos de queda na produção.
Neste verão, ele também propôs banir ou suspender por um tempo as obrigações para quem tem mais de 50 funcionários.
No entanto, como Hollande tem a pior avaliação de todos os tempos, ele corre o risco de entrar em conflito com membros de seu Partido Socialista e com poderosas organizações trabalhistas.
Proponentes do limiar do 50° funcionário afirmam que isso visa proteger os próprios trabalhadores e garantir sua participação na gestão das empresas.
Por sua vez, empregadores dizem que as exigências também prejudicam os negócios. Um estudo feito pela London School of Economics em 2012 mostrou que o custo das regras adicionais era equivalente a cerca de 5% a 10% de aumento salarial. "Isso é um grande obstáculo para o crescimento", concluiu o estudo.
A meia hora de carro ao norte de Éguilles, Tanguy Roelandts, fundador da fábrica de chocolates Puyricard, enfrentou esses desafios quando seu negócio começou a florescer, há dez anos.
Segundo ele, a fábrica era como uma família e as vendas anuais chegavam a cerca de € 10 milhões (R$ 30 milhões).
Mas após ele contratar o 50° funcionário "os resultados pioraram", pois isso onerou em cerca de € 32 mil (R$ 97 mil) os custos operacionais anuais da Puyricard, e Roelandts foi obrigado a dedicar metade de seu tempo para questões administrativas e a burocracia estatal francesa.
O maior problema foi quando Roelandts criou o conselho de trabalhadores. Embora nenhum de seus funcionários fosse sindicalizado, disse Roelandts, sindicatos procuraram os trabalhadores da Puyricard para filiá-los. "Subitamente nos vimos em uma discussão brutal e o tom do diálogo mudou bastante", recorda.
"Na França, o patrão tem a imagem de malfeitor e, se for exitoso, é porque explora os trabalhadores", comentou Plantier.
A ausência de um conselho liderado por um sindicato poderia evitar tensão em uma empresa na qual ele trabalhou estreitamente com os funcionários durante anos. Além disso, diz ele, é difícil administrar empresas separadas, em vez de ter todos os funcionários em uma única folha de pagamento.
"Os empregados pedem para contratar mais funcionários, então eu explico que não é possível", disse Plantier. "Eles aceitam, mas dizem que é vergonhoso." NYT, 23.09.14
quarta-feira, 10 de setembro de 2014
O ajuste ANTONIO DELFIM NETTO
A economia brasileira encontra-se numa situação desagradável, mas longe de estar à beira do apocalipse. Se, entretanto, insistirmos em não enfrentar os seus desequilíbrios, os cavaleiros podem nos visitar...
Na inflação --a despeito de alguns controles-- continuamos a namorar com o limite superior da banda de tolerância, que fingimos ser a "meta". A "boa notícia" é que a distância entre a taxa de inflação registrada nos preços "administrados" e nos preços "livres", que era menor do que 10% no final de 2011 e chegou a mais de 150% em 2013, foi reduzida e se encontra ao redor de 40%.
Na área fiscal a situação em 2014 piorou visivelmente, em parte porque o crescimento do PIB murchou. O deficit fiscal/PIB aproxima-se de 4%. A promessa de superávit primário de 1,9% do PIB, arrancado a fórceps no sufoco da ameaça da perda de rating pela agência S&P, tornou-se irrelevante e a dívida bruta/PIB aparenta um viés de crescimento.
A situação é delicada, mas perfeitamente reversível --sem custos exorbitantes-- com um programa monetário e fiscal coerente e transparente, capaz de dar previsibilidade às políticas públicas e tranquilizar o "espírito animal" assustado por intervenções pontuais bem intencionadas, mas erráticas. Irreversível é o crescimento perdido que vai nos acompanhar pelo resto do tempo.
Onde o ajuste será mais complexo é na política cambial. Voltamos a cometer o erro que nos tem perseguido há décadas: o uso da taxa de câmbio como coadjuvante do controle da inflação como substituto das políticas monetária e fiscal, cada vez que somos premiados com uma melhoria nas "relações de troca", ou seja, cada vez que os preços de nossas exportações crescem mais rapidamente do que os das nossas importações.
Não pode haver dúvida sobre as causas de um fato: não foi apenas a valorização cambial, mas foi principalmente a valorização cambial sistemática, prolongada, previsível, sustentada pelas maiores taxas de juros reais do universo, que destruiu o sofisticado setor manufatureiro nacional. De 2011 a 2014, o deficit comercial do setor manufatureiro foi da ordem de US$ 199 bilhões. É por isso que a indústria, que encolheu cerca de 1,5% ao ano entre julho de 2011/2014, foi a principal causa da murcha do PIB para 1,76% ao ano.
Já devíamos ter aprendido que é tudo inútil. Os especuladores sabem que a desvalorização é uma questão de tempo. Não há outra saída para a recuperação do equilíbrio a não ser a lenta e mais custosa política da "desinflação competitiva", como provaram todos os países que a experimentaram. Folha, 10.09.2014.
quarta-feira, 3 de setembro de 2014
Análise: Tripé da economia precisa de uma reforma
BRÁULIO BORGES - DE ESPECIAL PARA A FOLHA - 02/09/2014 01h30
Diante dos resultados econômicos ruins nos últimos anos, tem sido cada vez mais frequente o clamor por um "resgate" do chamado tripé de política macroeconômica, introduzido em 1999 e consubstanciado no sistema de metas de inflação, no regime de câmbio flutuante e em uma política fiscal compatível com a sustentabilidade da dívida pública.
"Resgate", porque esse tripé teria sido excessivamente flexibilizado nos últimos anos -a inflação ficou sistematicamente mais perto do teto do que do centro da meta, o câmbio não seria mais flutuante e a política fiscal perdeu grande parte de sua credibilidade, em meio a manobras contábeis cada vez mais frequentes e nebulosas.
O pedido por um resgate parte do pressuposto de que o sistema de metas de inflação -em sua acepção mais "puro-sangue"- já entregou, no passado, resultados econômicos bem melhores.
Diante disso, é mandatório olhar para os números: a tabela acima apresenta a evolução de alguns agregados macroeconômicos segmentados em três grandes períodos.
De cara, chama a atenção o fato de que, no período de 16 anos compreendido entre 1999 e 2014, a inflação medida pelo IPCA foi igual ou inferior ao centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional em apenas 4 (ou 25% do total).
Mesmo em sua "época de ouro" (2004 a 2008), o regime de metas de inflação brasileiro só foi exitoso em 2 dos 5 anos e a inflação média anual nesse período foi 0,7 ponto percentual superior ao centro médio da meta.
| Editoria de Arte | ||
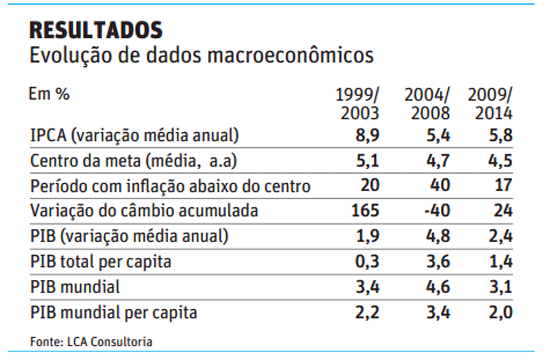 | ||
A tabela apresentada acima escancara o principal fator que permitiu esse maior êxito (apenas relativo) do sistema de metas em 2004-2008: a valorização cambial de cerca de 40% observada no acumulado desse período.
Tivesse o R$/US$ ficado estável entre o final de 2003 e o final de 2008, a alta média anual do IPCA em 2004-2008 teria sido de cerca de 6% -mesmo patamar de alta média anual que teria mostrado em 2009-2014 caso o R$/US$ não tivesse se depreciado em quase 25% no período (sobretudo de 2012 em diante).
Ou ainda: tivesse o R$/US$ se valorizado em outros 40% entre 2009 e 2014, o IPCA médio anual nesse período teria ficado próximo de 5% anuais (e não em 5,8%).
Quando o assunto é crescimento do PIB, a comparação entre as taxas de expansão do produto global e brasileiro entre esses três períodos deixa clara que a influência direta e indireta do ciclo econômico global foi muito importante para explicar o forte crescimento da economia brasileira em 2004-2008 comparativamente a 1999-2003 e a 2009-2014.
O crescimento mais forte de nossa economia em 2004-2008 só não gerou aceleração da inflação ante 1999-2003 por causa da valorização cambial e da reversão dos resultados da conta-corrente brasileira (de um superavit de quase 1% do PIB em 2003 para um deficit próximo a 2% do produto em 2008).
Feitas essas constatações, a questão que se coloca é se realmente faz sentido demandar um mero resgate ou se não seria mais pertinente falar em uma reforma do arcabouço de política monetária -até mesmo porque, desde 2007/2008, têm sido cada vez mais frequentes as críticas de vários economistas (no mercado e na academia) ao sistema de metas de inflação.
Uma proposta recente bem fundamentada teoricamente, apresentada pelos economistas Jeffrey Frankel e Pranjul Bhandari, chamou-me a atenção. Eles apontam que as economias emergentes deveriam considerar a adoção de metas de crescimento nominal para o PIB.
Segundo eles, essa meta alternativa tem claras vantagens comparativamente à meta de inflação, dentre as quais se destacam: 1) menor risco de descumprimento da meta (e de perda de credibilidade da política monetária), já que a variação do PIB nominal combina duas variáveis (crescimento real do PIB e inflação) que podem caminhar em sentidos opostos diante de choques; e 2) maior maleabilidade para absorver choques de oferta e de mudanças de termos de troca (fenômenos bem mais frequentes em economias emergentes do que nas centrais), reduzindo o espaço para reações pró-cíclicas.
Nesse contexto, a definição de uma meta de crescimento nominal do PIB me parece ser um aprimoramento de política econômica mais interessante do que um mero "resgate"...
BRÁULIO BORGES é economista-chefe da LCA Consultores
ANTONIO DELFIM NETTO
Invexp
"Caiu a ficha". É agora geral o reconhecimento que a causa fundamental da progressiva redução da taxa de crescimento do PIB foi a pouca atenção dada à cuidadosa destruição da capacidade competitiva da indústria manufatureira nacional, consequência do uso da taxa de câmbio como instrumento de controle da inflação em substituição às políticas fiscal e monetária.
Entre 2002 e 2007, depois da correção da supervalorização cambial de 1999, o saldo das exportações de manufaturados, que havia sido negativo em US$ 25,3 bilhões entre 1996-98, transformou-se no superávit de US$ 138,8 bilhões, o que aumentou a demanda de manufaturados brasileiros no mesmo valor.
Em 2007, a taxa nominal de câmbio, que andara em torno de 2,30 R$/US$ nos dois anos anteriores, cai para 1,95 R$/US$ (uma valorização de 15%, com uma inflação de 6%) e, a partir daí, com uma política cambial errática, reduziu-se a 1,67 R$/US$ em 2011 (com uma inflação acumulada de 25%!).
O resultado dessa aventura foi o deficit acumulado do saldo comercial dos manufaturados de US$ 236,0 bilhões entre 2008 e 2014. Em poucas palavras: de 2002 a 2014, a supervalorização "roubou" nada menos do que US$ 370 bilhões de demanda interna e externa da indústria nacional.
Em 2009, no auge da crise mundial, a taxa de câmbio se desvalorizou 9%, para valorizar-se 14% em 2010-11 e voltar a desvalorizar-se lentamente de 2012 até hoje, com a taxa de 2,30 R$/US$. Notemos que é a mesma taxa de 2005/06, enquanto a inflação total no período foi de 69,2%!
É agora evidente o que sempre deveria ter sido. Num processo de desenvolvimento econômico saudável há uma cointegração entre os três setores: agricultura, indústria e serviços. Depois da grave crise de 2009, nossa recuperação foi rápida, o problema é que dado às circunstâncias anteriores, a produção industrial estagnou, reduzindo os investimentos no setor e o crescimento do PIB.
O desconforto causado pela baixa performance da indústria não é a única causa da murcha do crescimento.
A falta de previsibilidade produzida por intervenções bem intencionadas, particularmente no comportamento do câmbio, que é o preço relativo mais importante da economia, foi devastadora. Mais importantes foram as dificuldades de comunicação entre o governo e o setor empresarial, dominada por preconceitos recíprocos que reduziram o nível do investimento privado.
A combinação da redução da demanda da indústria (ocupada pela importação subsidiada) com a redução dos investimentos privados foi mortal para o crescimento do PIB. Não vamos voltar a crescer sem enfrentar com disposição e inteligência esses dois obstáculos. Folha, 03.09.2014.
quarta-feira, 27 de agosto de 2014
A primeira vítima
ALEXANDRE SCHWARTSMAN
Afirmar que as contas públicas estão organizadas é um acinte; na eleição, a primeira vítima é a verdade
Vários dos 18 leitores devem ter suas contas domésticas agendadas para pagamento por débito automático. Nesse caso, o banco costuma realizar o pagamento mesmo quando os fundos não são suficientes, desde que o cliente tenha acesso ao chamado "cheque especial", que, aliás, sugiro fortemente ser evitado a todo custo.
De fato, quem precisa usar o "cheque especial" para pagar as despesas do mês por causa de eventuais insuficiências de fundos tem certeza absoluta de que gastou mais do que poderia.
Caso reste ainda alguma dúvida, a chegada da fatura dos juros cobrados sobre saldo insuficiente deve ser mais do que o bastante para convencer o cidadão de que ele deve dinheiro ao banco e que é bom tratar de cobrir o buraco o mais cedo possível, antes que a bola de neve termine por crescer além do sustentável.
Aparentemente, contudo, o governo federal não se considera sujeito ao mesmo tipo de regra. Conforme noticiado pela imprensa, o Tesouro Nacional não tem depositado recursos nas contas de seus agentes financeiros (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES) para cobrir algumas das suas despesas agendadas para "débito automático".
Isso não faz nenhuma diferença para os beneficiários finais (os que recebem, por exemplo, dinheiro dos programas sociais) porque os bancos federais fazem o pagamento em nome do governo, mesmo quando os recursos não são suficientes.
A contrapartida disso, porém, é o aumento do endividamento do governo federal com seus bancos. E, como ocorre com toda dívida, sobre ela incidem juros a serem eventualmente pagos pelo Tesouro Nacional, ainda que não tão elevados quanto os associados ao "cheque especial".
Ao contrário do cidadão comum, porém, pelos critérios da contabilidade pública, nem os gastos cobertos pelos bancos federais aparecem entre as despesas nem o saldo negativo dessas contas é classificado na dívida governamental. Sabedor disso, o Tesouro ganhou uma "licença para gastar", conhecida no jargão como "pedalada", nome que me causa imensa tristeza dada a minha condição de ciclista amador.
Posto de outra forma, os bancos federais financiam o governo, isto é, emprestam-lhe dinheiro, prática em tese proibida pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e que, anos atrás, esteve na raiz da quebra em série dos bancos estaduais.
Há, é bom que se diga, ainda discussão para saber se a operação descrita acima se encaixa no rol de operações vedadas pela LRF (acredito que sim, porém não sou especialista na parte legal), mas resta pouca dúvida de que o espírito da coisa contraria frontalmente as boas práticas de gestão fiscal.
A começar pela falta de transparência. Não se trata da primeira vez (nem certamente a última) em que o Tesouro Nacional é pego às margens das normas contábeis, disfarçando de forma nada dis- creta resultados fiscais bem aquém das metas fixadas pelo próprio governo federal. Isso só serve para aumentar o descrédito quanto às estatísticas públicas, um retrocesso considerável nos nossos padrões de governança.
Além disso, porém, o fato é que --mesmo sem terem sido contabi- lizados-- os gastos ocorreram, assim como seus efeitos sobre a ati- vidade econômica, a inflação e demais variáveis de interesse. Em particular, a inflação no teto da meta (quando não acima dele) se deve, em boa parte, precisamente às persistentes estripulias com as contas públicas.
A verdade é que a política fiscal, apesar das promessas de austeridade do governo e dos supostos cortes de gastos anunciados no começo do ano, tem sido não apenas bem mais frouxa do que a observada no ano passado mas ainda pior do que os números oficiais nos mostram.
Nesse contexto, a afirmação do ministro da Fazenda ("As nos- sas contas públicas estão absolutamente organizadas") chega a ser um acinte aos que têm por ofício acompanhar nosso desempenho fiscal. Assim como na guerra, na época de eleição a primeira vítima é a verdade. Folha, 27.08.2014.
Uma ideia simples
Campanhas eleitorais em torno de pesquisas levam a sopa de números, que tal discutir propostas?
Todos os candidatos prometem crescimento e austeridade. Entre os chavões mais batidos vem sempre a reforma tributária, tema complexo, chato mesmo, acaba sempre em parolagem. Promete-se a simplificação das leis que regulam os tributos, e a cada ano eles ficam mais complicados. Uma coletânea da legislação brasileira pesa seis toneladas. Aqui vai uma contribuição, trazida pelo Instituto Endeavor. Relaciona-se com o regime de cobrança de impostos de pequenas empresas, aquelas que faturam até R$ 3,6 milhões por ano (R$ 300 mil por mês). É o Simples --pode-se estimar que ele facilita a vida de algo como 3 milhões de empresas ativas.
Seu mecanismo, como diz o nome, é simples. Em vez de pagar sete impostos, cada um com suas guias, o empresário desconta entre 4% e 12% do seu faturamento. Ao fim do ano, quem faturou no limite de R$ 3,6 milhões terá pago à Viúva R$ 435 mil. Há poucas semanas, numa iniciativa benfazeja, a doutora Dilma expandiu esse regime, aliviando centenas de milhares de profissionais liberais, com alíquotas de até 16%.
O problema surge exatamente na hora em que a empresa trabalha direito, cresce e fatura além do teto. Quem comete essa imprudência é mandado ao inferno dos outros regimes tributários. Numa simulação, resulta que sua conta sobe para algo entre R$ 652 mil e R$ 727 mil. Com uma margem de lucro de 10%, arrisca ir para o ralo.
Como ninguém trabalha para pagar mais impostos, acontece o óbvio. O empresário desiste de crescer ou vai para a informalidade e, daí, para a sonegação. Desde que o rei da Itália pôs fiscais na orla marítima para vigiar as mulheres que iam ao mar para buscar água para ferver o macarrão (o sal era monopólio do Estado), sabe-se de poucas irracionalidades parecidas.
O Brasil tem 4,5 milhões de empresas grandes, médias e pequenas. Delas, entre 2008 e 2011, cerca de 17 mil pequenas cresceram 20% ao ano durante três anos seguidos. É provável que tenham gerado 300 mil empregos, 10% da massa criada no período. Quase todas estavam no Simples, muitas delas às portas do inferno do sucesso.
Se começar hoje uma discussão em torno da elevação do teto de faturamento do Simples, chega-se a algum lugar. No mínimo, reconhece-se que a mudança abrupta, derivada do êxito, não faz sentido. Pode-se criar uma escadinha. Pode-se relacionar o benefício ao número de empregos criados, pode-se fazer qualquer coisa, desde que se tenha na cabeça que o crescimento de uma empresa é um benefício para a sociedade.
Os impostecas do governo certamente dirão que uma iniciativa dessas reduzirá a arrecadação. Isso poderá acontecer num primeiro momento, mas o que engorda a bolsa da Viúva não é apenas a cobrança de mais impostos, é o crescimento da economia.
O imperador Tibério ensinava que suas ovelhas deviam ser tosadas, e não escalpeladas. Se a empresa for para a sonegação, à espera de uma anistia parcial disfarçada (pode me chamar de Refis), todos perdem. Ademais, é preferível abrir mão de alguma arrecadação com um alívio genérico do que ficar distribuindo benefícios para grandes empresas com grandes amigos no Planalto ou no Congresso, colocando gatos nas tubas das medidas provisórias. Folha, 27.08.2014.
Estratégia
ANTONIO DELFIM NETTO
A sociedade brasileira está mais perplexa do que deveria: o que está acontecendo estava escrito na resposta a uma política de combate à inflação apoiada na valorização da taxa de câmbio e na ação monetária sem suporte nas contas públicas. E está menos preocupada do que deveria.
Hoje já pode avaliar os seus resultados quando comparados o quadriênio atual (de 2011 a 2014) com o anterior (de 2007 a 2010): 1) uma redução do crescimento acumulado do PIB de 19,6% para 7,4%, uma queda de 60%; 2) uma ampliação da taxa de inflação acumulada de 22,0 para 27,0%, um aumento de 20%; e 3) uma deterioração do deficit em conta corrente acumulado de US$ 98,2 bilhões para US$ 268 bilhões de dólares, um aumento de 170%.
É claro que uma análise objetiva exige que tais números sejam relativizados pela continuidade do processo civilizatório de inclusão social, pela redução do crescimento mundial (5% em média, de 2005-07 --antes da crise--, e 3,5% em 2011-13) e pelo esforço do ajuste de 2011 quando, para amainar a euforia de 2010, a presidente Dilma Rousseff aumentou a taxa de juros, reduziu o deficit fiscal e mostrou que estava disposta a enfrentar algumas reformas, como se viu na aprovação das regras de aposentadoria do funcionalismo público.
A situação piorou a olhos vistos desde o início de 2012, quando se acentuou a queda do PIB mundial e ficou claro que o Brasil cresceria muito pouco. A resposta intempestiva do governo foi baixar os juros (a taxa Selic veio de 11% para 7,25%) ao qual a taxa de câmbio respondeu com uma desvalorização de 17%.
Tomaram-se medidas pontuais e realizaram-se intervenções setoriais que, por não revelarem uma proposta global consistente, criou uma enorme desconfiança e assustou o "espírito animal" dos empresários que reduziram os investimentos.
O ano revelou-se realmente muito difícil: crescimento do PIB de 1%; taxa de inflação de 5,8% e deficit em conta corrente de US$ 54,2 bilhões.
Em 2013, as preocupações com a falta de comunicação de uma "estratégia" compreensível aumentaram e separaram o setor produtivo privado do poder incumbente. A taxa Selic voltou a subir e a taxa de inflação ficou aonde estava. O PIB brasileiro cresceu 2,5%, mas o deficit em conta corrente chegou aos incríveis US$ 81,4 bilhões.
A despeito do grande esforço do governo e do seu evidente aprendizado, o ano de 2014 está dado: vamos crescer em torno de 1%; a inflação vai continuar a namorar o limite de tolerância da "meta" e vamos repetir o deficit em conta corrente de US$ 80 bilhões. Folha, 27.08.2014.
www.abraao.com
quarta-feira, 20 de agosto de 2014
Produzir no Brasil é 23% mais caro do que nos EUA: Aumento da custo da mão de obra industrial explica diferença, diz estudo
Baixa eficiência também pesa para indústria brasileira; emergentes como China e México têm custo inferior
ÉRICA FRAGADE SÃO PAULO
A capacidade de competição da indústria brasileira sofreu uma reviravolta negativa na última década.
Hoje, o custo de produzir no Brasil é 23% maior do que nos Estados Unidos. Em 2004, era 3% inferior.
A conclusão é de um estudo recém-divulgado pela consultoria The Boston Consulting Group (BCG).
A pesquisa comparou os custos de produção dos 25 principais países exportadores do mundo.
Além dos Estados Unidos, o custo de produção no Brasil ultrapassa, significativamente, o de outros países emergentes, como China, Índia, México e Rússia.
A consultoria analisou os custos de produção dos 25 países levando em conta quatro fatores: salários na indústria, produtividade do trabalho, custo de energia e taxa de câmbio.
Segundo o BCG, o Brasil perdeu competitividade em todos os quesitos analisados.
Com isso, o custo de produção da indústria no país aumentou 26% em relação ao dos EUA entre 2004 e 2014.
Salários mais elevados combinados com um crescimento muito fraco da produtividade explicam três quartos desse aumento.
O BCG ressalta que os salários pagos na indústria mais do que dobraram ao longo da última década.
O problema, segundo a consultoria, é que essa tendência não foi acompanhada por um aumento significativo da produtividade dos trabalhadores brasileiros.
Um forte ganho de eficiência teria permitido às empresas conseguir um aumento de sua capacidade de produção suficiente para cobrir os maiores custos trabalhistas. Mas a produtividade cresceu apenas 1% ao ano no período analisado.
O lento aumento da eficiência é explicado por fatores como baixa oferta de mão de obra qualificada, falta de investimento, infraestrutura inadequada e burocracia excessiva.
A consultoria afirma ainda que o forte aumento do preço da eletricidade para a indústria --que dobrou na última década-- e o maior custo do gás natural também contribuíram para erodir a capacidade de competição do setor no país.
SOB PRESSÃO
De acordo com a tendência do custo de produção ao longo da última década, o BCG classificou os países em quatro grupos.
Os que se encontram em situação mais crítica foram chamados de "sob pressão". É nesse grupo que o Brasil foi incluído, ao lado de China, Rússia, República Tcheca e Polônia. Entre os cinco, o Brasil foi o que teve o maior aumento de custo de produção, segundo o BCG.
No outro extremo, entre as chamadas "estrelas emergentes globais", estão México e Estados Unidos. A competitividade dos dois países foi impulsionada por fatores como baixo aumento dos salários e ganhos de produtividade.
O relatório ressalta que o mundo deixou de ser dividido em continentes competitivos versus caros.
Atualmente, há casos de países muito competitivos e outros nem tanto em todos os continentes. Segundo o BCG, isso deve guiar as decisões de investimento no futuro.
A consultoria prevê que a produção industrial deve se tornar cada vez mais regionalizada, centrada nos países mais competitivos de cada uma das regiões. 20.08.14
Ano da indústria está perdido, afirma CNI
Assinar:
Postagens (Atom)