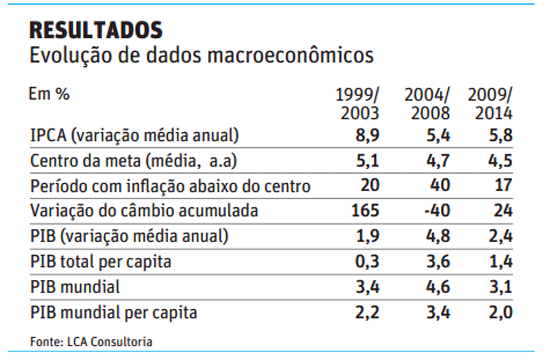Por NEIL IRWIN
Um plebiscito destinado a transformar a Escócia em um país independente e acabar com o Reino Unido tal qual o conhecemos fracassou, mas teria tido sucesso caso apenas 5% dos votos mudassem de lado.
Um partido de direita e anti-imigração obteve na Suécia a mais expressiva votação da sua história em uma eleição.
E, nos Estados Unidos, novos dados do Censo mostram que as famílias de classe média ganharam 8% a menos no ano passado (descontada a inflação) do que em 2007. O que essas histórias têm em comum é o seguinte: elas revelam uma crise de confiança na elite global.
Há um acordo implícito nas democracias modernas: tudo bem que os ricos e poderosos desfrutem de jatos particulares e casas extraordinariamente caras, desde que o resto da população também tenha um aumento consistente do seu padrão de vida.
Mas só a primeira parte do trato vem sendo cumprida, e os eleitores estão expressando sua frustração de maneiras que variam de acordo com o país, mas que têm em comum a sensação de que a ordem estabelecida não lhes serve.
Isso ficou evidente nas votações da Escócia e da Suécia, nos resultados expressivos dos partidos de extrema-esquerda e extrema-direita nas eleições deste ano para o Parlamento Europeu, na ascensão do Tea Party nos Estados Unidos e na instabilidade política que levou o Japão a ter seis primeiros-ministros desde 2007.
Em grau mais detalhado, as queixas escocesas contra a classe dominante inglesa são quase diametralmente opostas às do Tea Party ou dos direitistas suecos. Os escoceses querem um aumento dos gastos sociais, ao invés da sua redução, e seu movimento têm um forte traço ambiental antinuclear.
Mas sempre existem pessoas que divergem dos rumos da política em seu país. A razão de ser de um Estado é ter um aparato que canalize preferências díspares para um conjunto sensato de opções políticas.
O que diferencia o momento atual é que o descontentamento com a conjuntura é tão elevado que chega a colocar em xeque a tolerância em relação às instituições governamentais tais quais existem hoje.
Desde a crise financeira, os Estados Unidos vêm registrando um crescimento mais intenso do que o Reino Unido, o Japão e a Europa continental, e sua economia é 6,7% maior do que era no final de 2007.
Mas os trabalhadores americanos não estão se beneficiando. O Departamento do Censo informou recentemente que a renda familiar média ajustada pela inflação foi de US$ 51.939 (R$ 123.615) em 2013, um aumento de apenas US$ 180 em relação 2012, e ainda 8% abaixo dos níveis de 2007.
O pico de renda de 2007 já era ligeiramente inferior ao pico de 1999. Em outras palavras, uma família americana de classe média está hoje pior do que há 15 anos. A discussão sobre a economia em geral se concentra em coisas como a geração de empregos e o crescimento do produto interno bruto (PIB). Mas ninguém se alimenta de PIB.
A cada pleito, os EUA parecem em condições de viver uma onda eleitoral que faça um dos partidos obter um avanço importante.
Pode parecer contraditório o fato de Obama e os parlamentares democratas terem sido eleitos com uma votação esmagadora em 2008, mas que em 2010 tenha ocorrido uma guinada em favor do Tea Party. No entanto, é isso que se pode esperar num mundo onde a política tradicional oferece resultados medíocres.
No Reino Unido, o governo trabalhista liderado por um primeiro-ministro escocês (Gordon Brown), com um ministro das Finanças também oriundo dessa região (Alistair Darling), estimulou o predomínio das finanças na economia britânica, ensejando o surgimento de grandes bancos globais numa Londres cada vez mais cosmopolita como o centro da estratégia econômica.
Mas em 2008 os bancos quase quebraram e tiveram de ser socorridos, e a economia nunca mais foi a mesma. Esse fracasso levou a um governo de coalizão, em 2010, que está ainda menos alinhado com as políticas dos escoceses, impondo a austeridade enquanto eles preferem ampliar a rede de bem-estar social.
Mas talvez seja na Europa continental que as consequências das trapalhadas das elites sejam mais prejudiciais e perigosas.
Décadas de avanço rumo a um continente unido, liderado pela centro-direita e pela centro-esquerda, criaram uma Europa Ocidental onde existem uma moeda e um banco central únicos.
Mas essa autoridade não contava com a união política, fiscal e bancária que permitiria diminuir desequilíbrios entre os países sem o benefício das flutuações.
Quando tudo veio à tona, os líderes já estavam tão alarmados com os deficits orçamentários que reagiram cortando gastos e aumentando impostos.
Assim, os desequilíbrios acumulados por anos a fio na Europa se refletem em níveis astronômicos de desemprego e em reduções salariais em países como Espanha e Grécia. Mesmo as economias do norte da Europa, Alemanha incluída, têm crescimento baixo ou nulo.
Apesar de a Grande Depressão da década de 1930 ter trazido no início uma contração mais acentuada da atividade econômica, a economia europeia está, seis anos após a crise de 2008, pior do que num momento comparável da década de 1930.
Nas eleições europeias de maio, partidos de extrema-direita e extrema-esquerda obtiveram grandes avanços. Todo o esforço do pós-Segunda Guerra Mundial para construir uma Europa unida incluirá agora partidos que usam imagens nazistas e outros que se consideram comunistas.
O site Huffington Post pode, sem ser acusado de exagero, publicar uma lista intitulada "Os nove mais assustadores partidos de ultradireita atualmente no Parlamento Europeu". Algo deu errado no projeto do continente.
Os detalhes sobre os erros governamentais diferem, assim como dos movimentos que cresceram como forma de protesto. Mas eles são um lembrete de que o poder não é um direito, e sim uma responsabilidade.
E, por mais entrincheiradas que nossas instituições governamentais pareçam estar, elas repousam sobre uma premissa pétrea: a de que os líderes irão cumprir o que prometem. NYT, 30.09.2014.